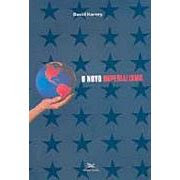Para compreender as relações entre a consciência e a natureza, torna-se preciso entender a natureza como uma multiplicidade de acontecimentos exteriores ligados por relações de causalidade. Na França, a filosofia do século XX faz da natureza uma unidade objetiva e justaposta, diante da consciência e da ciência, que tratam o organismo e a consciência como duas ordens de realidades em relação recíproca como causas e efeitos. Inicialmente o comportamento está em oposição aos dados da ‘consciência ingênua’. A luz é vista em nós e envolve um movimento vibratório. A luz fenomênica é uma aparência qualitativa, mas a luz real é apenas um movimento vibratório.
Da teoria clássica do reflexo retiram-se algumas concepções, tais como a decomposição da excitação e a reação em multiplicidade de processos parciais: resposta correlaciona órgãos receptores e músculos efetores. O reflexo (fenômeno longitudinal) é uma operação de um agente definido sobre um receptor que provoca uma resposta definida. Percebo porque meu corpo respondeu a isso por reflexos adaptados. O comportamento parece intencional, por ser regrado por trajetos nervosos que obtém a satisfação. A cada parte do estímulo corresponde uma parte da reação. Seqüências elementares que deveriam constituir todos os reflexos. O comportamento é a causa principal de todos os estímulos, ele é um efeito do meio. Os movimentos do organismo são condicionados por influências externas. As propriedades do objeto e as intenções do sujeito se misturam e constituem algo novo. Entre os estímulos e as reações, o comportamento é mediatizado pelas relações fisiológicas e psíquicas. Os comportamentos têm suas raízes e efeitos no meio geográfico. O meio geográfico pertence também ao universo físico e seus efeitos também pertencem a ele. Coloca-se o corpo humano no meio de um mundo físico que seria a ‘causa’ de suas reações. O organismo se oferece ao exterior encontrando em torno de si agentes químicos e físicos. O organismo age, com seus receptores e centros nervosos, segundo os movimentos dos órgãos, escolhe os estímulos aos quais será sensível no mundo físico. Existem apenas efeitos no mundo dos reflexos. Na ordem dos reflexos observam-se as conexões da superfície sensível aos músculos efetores.
A definição de ordem é tal que o que acontece em cada ponto é determinado pelo que acontece em todos os outros. Cada efeito local depende da função que desempenha no conjunto, de seu valor e significado em relação à estrutura que o sistema tende a realizar. Assim, quantidade, ordem e significado estão presentes em todo o universo das formas, ou seja, os caracteres dominantes na matéria, vida e espírito. Matéria, vida e espírito participam de modo desigual na natureza da forma. A teoria da forma procura solucionar os problemas entre alma e o corpo. Os sistemas físicos apresentam autonomia às influencias externas. A autonomia que os organismos possuem é relativa às condições físicas e a que o comportamento simbólico tem em relação à sua infra-estrutura fisiológica. O conhecimento perceptivo e os processos nervosos têm a mesma forma psíquica e são homogêneos às estruturas físicas. Matéria, vida e espírito são três ordens de significados.
A forma de um sistema físico é o conjunto de forças em estado de equilíbrio ou mudança constante. Cada vetor é determinado em grandeza e direção por todos os outros. A circulação interior é o sistema como realidade física. A mudança local é uma forma através de uma redistribuição de forças que assegura a constância de sua relação. A forma física é um indivíduo, uma unidade interior inscrita num fragmento de espaço e resistente a deformação das influências externas.
A estrutura geral do comportamento se expressa pelas constantes das condutas, dos patamares sensíveis e motores. Um comportamento privilegiado permite a ação mais simples e mais adaptada. As estruturas inorgânicas se exprimem por leis, mas as estruturas orgânicas se exprimem por normas (ação transitiva que caracteriza o indivíduo) nas relações dialéticas entre indivíduo orgânico e meio. A dialética do organismo e do meio pode ser interrompida por comportamentos catastróficos, casos patológicos e fenômenos de laboratório.
Da teoria clássica do reflexo retiram-se algumas concepções, tais como a decomposição da excitação e a reação em multiplicidade de processos parciais: resposta correlaciona órgãos receptores e músculos efetores. O reflexo (fenômeno longitudinal) é uma operação de um agente definido sobre um receptor que provoca uma resposta definida. Percebo porque meu corpo respondeu a isso por reflexos adaptados. O comportamento parece intencional, por ser regrado por trajetos nervosos que obtém a satisfação. A cada parte do estímulo corresponde uma parte da reação. Seqüências elementares que deveriam constituir todos os reflexos. O comportamento é a causa principal de todos os estímulos, ele é um efeito do meio. Os movimentos do organismo são condicionados por influências externas. As propriedades do objeto e as intenções do sujeito se misturam e constituem algo novo. Entre os estímulos e as reações, o comportamento é mediatizado pelas relações fisiológicas e psíquicas. Os comportamentos têm suas raízes e efeitos no meio geográfico. O meio geográfico pertence também ao universo físico e seus efeitos também pertencem a ele. Coloca-se o corpo humano no meio de um mundo físico que seria a ‘causa’ de suas reações. O organismo se oferece ao exterior encontrando em torno de si agentes químicos e físicos. O organismo age, com seus receptores e centros nervosos, segundo os movimentos dos órgãos, escolhe os estímulos aos quais será sensível no mundo físico. Existem apenas efeitos no mundo dos reflexos. Na ordem dos reflexos observam-se as conexões da superfície sensível aos músculos efetores.
A definição de ordem é tal que o que acontece em cada ponto é determinado pelo que acontece em todos os outros. Cada efeito local depende da função que desempenha no conjunto, de seu valor e significado em relação à estrutura que o sistema tende a realizar. Assim, quantidade, ordem e significado estão presentes em todo o universo das formas, ou seja, os caracteres dominantes na matéria, vida e espírito. Matéria, vida e espírito participam de modo desigual na natureza da forma. A teoria da forma procura solucionar os problemas entre alma e o corpo. Os sistemas físicos apresentam autonomia às influencias externas. A autonomia que os organismos possuem é relativa às condições físicas e a que o comportamento simbólico tem em relação à sua infra-estrutura fisiológica. O conhecimento perceptivo e os processos nervosos têm a mesma forma psíquica e são homogêneos às estruturas físicas. Matéria, vida e espírito são três ordens de significados.
A forma de um sistema físico é o conjunto de forças em estado de equilíbrio ou mudança constante. Cada vetor é determinado em grandeza e direção por todos os outros. A circulação interior é o sistema como realidade física. A mudança local é uma forma através de uma redistribuição de forças que assegura a constância de sua relação. A forma física é um indivíduo, uma unidade interior inscrita num fragmento de espaço e resistente a deformação das influências externas.
A estrutura geral do comportamento se expressa pelas constantes das condutas, dos patamares sensíveis e motores. Um comportamento privilegiado permite a ação mais simples e mais adaptada. As estruturas inorgânicas se exprimem por leis, mas as estruturas orgânicas se exprimem por normas (ação transitiva que caracteriza o indivíduo) nas relações dialéticas entre indivíduo orgânico e meio. A dialética do organismo e do meio pode ser interrompida por comportamentos catastróficos, casos patológicos e fenômenos de laboratório.